Há uns anos, Margaret Atwood disse que a famosa frase de Robert Frost, «a terra pertencia‑nos antes de nós pertencermos a terra», nunca poderia ter sido escrita por um canadiano. «A terra nunca nos pertenceu», disse Atwood. «A nossa relação com a terra é a de criaturas que têm de lutar para sobreviver.» Desde a infância, Atwood sempre teve uma relação física com a sua terra. Passou os primeiros anos de vida a seguir os passos do pai, entomologista que esquadrinhava as florestas do Norte do Quebeque e do Ontário em busca de espécimes para estudar. Da sua experiência da natureza em estado selvagem, e das suas primeiras leituras de contos de fadas e romances policiais, Atwood construiu a paisagem da futura geografia da sua imaginação. Escreveu os primeiros poemas ainda antes dos seis anos; só frequentou a escola a tempo inteiro a partir dos 12 anos e depois, já adolescente, começou a distinguir-se enquanto poeta com uma voz incisiva, irónica e inconfundivelmente pessoal.
A questão da identidade é central na obra de Atwood. Quem sou eu e quem somos nós surgem repetidamente nos seus textos, sob mil e uma formas. Um breve poema escrito quando Atwood estava à beira dos 30 anos, publicado na colectânea Políticas de Poder, diz isto:
encaixas em mim
como gancho num olhal
um gancho de anzol
um olho aberto
Esta identidade resoluta, este «eu» de primeira pessoa, mudará ao longo do meio século seguinte, dos seus poemas para o seu primeiro romance, A Mulher Comestível; de A Mulher Comestível para Ressurgir; de Ressurgir para Olho de Gato, Chamavam-lhe Grace, A Impostora e A Odisseia de Penélope. Neste jogo de espelhos que se deslocam, emerge a cada passo uma identidade mais profunda, mais complexa, mais intrigante. Nunca se trata de comparar documentos de identificação com as características das suas personagens ficcionais, numa entediante investigação académica. É antes a cartografia da experiência pessoal transmutada em história, a autora transmigrada em «Era Uma Vez».
A identidade da autora interlaça-se, pelo menos no início, com a identidade do país. A velha piada sobre o Canadá – «um país com geografia a mais e história a menos» – é tomada como um desafio em Survival, não publicada em portugues, uma cartilha cultural escrita em 1972, um ano depois de Políticas de Poder. Simone Weil definiu cultura como «a formação da atenção». Atwood exige que o leitor curioso preste «atenção» às estratégias de sobrevivência que o Canadá exigiu (e ainda exige) do seu povo. Neste contexto, talvez seja útil observar que o Canadá é o único país nas Américas cuja identidade teve origem não numa revolução, mas numa contra-revolução. Os canadianos definem-se pela recusa em deixar-se encurralar pelo chauvinismo convencional. Um concurso da CBC (o serviço de radiodifusão pública do Canadá) para encontrar o equivalente canadiano à expressão «tão americano como tarte de maçã» nos Estados Unidos, premiou a seguinte proposta: «Tão canadiano como possível, dadas as circunstâncias.» Não se trata de relutância em tomar posição, pelo contrário: é uma vontade de permanecer aberto.
A identidade de uma nação reflecte-se mais nas histórias que conta do que na sua política. Convicta disto, Margaret Atwood dispôs-se, há mais de cinquenta anos, a construir uma consciência cultural do Canadá. Em Survival, livro revolucionário na sua altura e hoje um clássico, Atwood define a cultura do Canadá em termos da sua relação com a natureza e através da presença constante da heroína-vítima-protagonista que Atwood vê como característica da identidade nacional. As estratégias de sobrevivência das suas personagens (quase todas mulheres) são, de várias maneiras, semelhantes às das suas predecessoras, os romancistas victorianos que Atwood admira ou as romancistas da França do século XVIII. Estas novas Princesas de Clèves e Jane Eyres dão por si em ambientes hostis, como a sempre ameaçadora natureza selvagem ou a sempre presente sociedade patriarcal.
Um bom exemplo disso é Chamavam-lhe Grace, publicado em 1996. A 23 de Julho de 1843, Thomas Kinnear, jovem cavalheiro de Richmond Hill, no Ontário, e a sua governanta, Nancy Montgomery, foram encontrados mortos na propriedade de Kinnear. As autoridades não tiveram dificuldade em identificar os assassinos: dois criados ao serviço de Kinnear, James McDermott e Grace Marks, tinham fugido para os Estados Unidos com nomes falsos. Uns meses mais tarde, foram encontrados, levados para o Canadá, julgados e declarados culpados. McDermott foi condenado à forca; a sentença de Grace Marks foi alterada para prisão perpétua na Cadeia de Kingston. Os boatos melodramáticos à roda do caso – que Kinnear e a governanta eram amantes; que Grace, com ciúmes de Nancy, incitara McDermott a cometer o crime – transformaram Grace num monstro célebre visitado na cela por membros da alta sociedade, incluindo a diarista canadiana do século XIX Susanna Moodie.
Foi no livro Life in the Clearings, de Moodie, que Margaret Atwood descobriu a história de Grace. Defred, a Serva, e Grace são irmãs, uma no futuro e outra no passado. Ambas fechadas em divisões pequenas onde as suas vidas se desenrolam, ambas definidas – ou melhor, rotuladas – pelo mundo masculino que as aprisionou, ambas talhadas e ajustadas a uma forma determinada pela sociedade, ambas moldadas por sistemas de exclusão, ambas as mulheres erguem um espelho para os seus captores, um espelho convexo em que vêem o oposto do seu próprio eu. Grace em particular é a imagem invertida dos homens no poder: condenada pelo seu sexo, pela sua pobreza, pelo seu sangue irlandês nas vésperas da Grande Fome, vai para o Alto Canadá para descobrir que a única arma ao seu alcance para fugir à labuta diária é a sua paixão e ela brande-a como uma navalha. Na sociedade canadiana da década de 1840, a paixão era a transgressão máxima: contra espartilhos e corpetes, contra convenções de vozes discretas e docilidade feminina, contra «o saber pôr-se no seu lugar». E, para preservar a sua paixão – e se preservar a si mesma – do mundo, Grace mantém a sua paixão em segredo.
Se Chamavam-lhe Grace é um romance que gira à volta de um crime, também é uma história em que o mistério – felizmente – nunca é deslindado. O que importa é o lento desabrochar da consciência de Grace, a construção da sua pessoa desde o interior, o que também é válido para Defred e a assombrosa, aterradora, memorável Tia Lydia d’Os Testamentos. No seu primeiro emprego, Grace foi orientada por Mary Whitney, uma criada mais velha e experiente, talvez a única pessoa que gostou verdadeiramente dela, decerto a única que a ajudou a reconhecer o seu eu. Grace adopta precisamente o nome Mary quando foge para os Estados Unidos, na esperança de se tornar independente, uma vez que Grace é uma criatura que o mundo imaginou para a manter em submissão, enquanto Mary é uma criação sua, autobiográfica no mais pleno sentido do termo. Perpassa pelo romance um toque do fantástico: um misterioso vendedor ambulante que lê a palma da mão de Grace e a declara «um de nós»; fantasmas que vêm postar-se ao lado dela; os mortos que a chamam com vozes distinguíveis. Também eles, tanto como a adopção do nome de Mary, são a realidade de Grace, finalmente livre das regras e expectativas dos homens.
Tal como a maioria dos romances policiais, Chamavam-lhe Grace é a crónica de uma busca e, sendo uma história canadiana, também é a descrição de uma estratégia de sobrevivência. No caso de Grace, é a crónica do longo e árduo processo de uma mulher a descobrir quem ou o que é, a aprender a reconhecer nas formas cambiantes da sua mente em desordem um nome a que possa chamar seu, a desenterrar um rosto desconhecido para lá do rosto no espelho. Não pode haver uma conclusão feliz nesta história: como Grace procura algo (e nós procuramos Grace) em constante mudança, a demanda tem de continuar para lá da última página do livro.
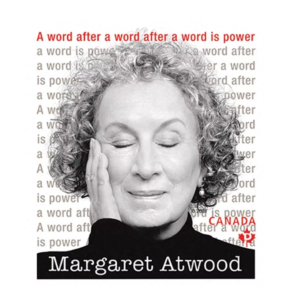
Selo comemorativo. Canadá
A crónica documental que se alimenta dos elementos da ficção (ou o romance que se alimenta de crónicas documentais) tem uma respeitável tradição na literatura em inglês, pelo menos tão velha como o Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, que pretende ser uma descrição pormenorizada da epidemia em Londres mas é, na verdade, uma reconstrução imaginária de um excepcional contador de histórias. Atwood sabe que os documentos no caso de Grace não bastam para expor o osso da sua história: para compreender, temos de confiar na ficção, nas revelações do «e se» e «imaginem que». Como o romance Chamem-me Grace participa nos dois campos literários, Atwood inclui habilmente documentos que têm a qualidade de histórias e sonhos que parecem tão reais como documentos, enriquecidos com o toque da poeta, e extraordinariamente assombrosos.
Escondida nos intervalos da história de Grace temos a de Susana no banho e dos anciãos que a espiam, uma das primeiras histórias policiais de todos os tempos. Acusada de lascívia por dois velhotes cujos avanços recusa, a virtuosa Susana é exonerada pela intervenção de Daniel, que prova a sua inocência expondo os testemunhos contraditórios dos anciãos. Para Grace, a moral da história é simples: «Não se deve tomar banho no jardim.» A nudez, a exposição da carne ou da alma, convida o perigo num mundo que só exige honestidade às suas vítimas. A sobrevivência (palavra que se tornou propriedade de Atwood) está na dissimulação, em calcular as nossas entradas em cena, em contar a nossa própria história, à nossa maneira.
Nos livros de Atwood, nunca há uma oposição ingénua entre vítimas e agressores: em todas as instâncias, Atwood explora com precisão cirúrgica as ligações criadas entre mulheres, homens e o mundo sofredor que nos rodeia. O ponto de partida de Survival é uma reflexão do professor de Literatura de Atwood, o grande crítico Northrop Frye. «Em todas as culturas», escreveu Frye, «há uma estrutura de ideias, imagens e crenças que expressam, a dada altura no tempo, uma perspectiva geral da situação humana e do seu destino.» Para Atwood, esse imaginário colectivo pode ser resumido à ideia de sobrevivência. Assombrados pelos espectros do colonialismo, atordoados pela enormidade da paisagem, exilados na sua própria terra por uma natureza hostil, conscientes da sua nudez, como Adão e Eva no Jardim, os canadianos narram o oposto do desejo: aquilo que é temido, aquilo que é combatido em nome da sobrevivência.
Desde o livro Survival até hoje, a obra de Atwood redime e aperfeiçoa esta obsessão. Na sua literatura, as personagens esforçam-se por se salvarem a si e aos seus fantasmas (como nos romances Olho de Gato e A Impostora), ou dos fantasmas do mundo natural (Ressurgir) ou da sociedade monstruosa que os tenta destruir (A História de Uma Serva e Os Testamentos) ou mesmo da devastação de uma ciência que enlouqueceu (a trilogia Maddaddam). Atwood recusa-se definir estes últimos romances, incluindo a trilogia Maddaddam, como obras de ficção científica. Para ela, a literatura de ficção científica inventa criaturas e mundos fantásticos, enquanto os seus romances procuram simplesmente expandir ou exacerbar o que já existe na nossa realidade. «Posso apresentar provas da existência, em forma embrionária, aqui e agora, de cada pormenor que os leitores possam supor fantástico», diz Atwood.
Numa entrevista recente, Atwood disse que «na ficção científica o foco é sempre o agora. Sobre que mais havia de ser? Não há futuro». Com efeito. Existe o hoje, que (como bem sabiam os escritores medievais) é já o nosso passado. Hoje, graças a Margaret Atwood, a literatura canadiana tornou-se parte de um passado que remonta aos confins do século xviii, e um presente tão rico e variado que já não se pode limitar às fronteiras do país. Graças aos esforços de Atwood e dos autores seus contemporâneos, graças à fundação, em 1973, com o seu parceiro, o romancista Graeme Gibson, da União dos Escritores do Canadá, as escritoras e os escritores canadianos podem hoje trabalhar sem sentirem que escrevem no vazio de um país quase inexistente. Mas nenhuma literatura, uma vez afirmada, permanece autóctone. A obra de Atwood, traduzida em dezenas de línguas, não é lida como apenas «canadiana», mas como reflexo de cada leitor, que, por todo o mundo, sente que o destino daquelas personagens, seja qual for a sua nacionalidade, não lhe é alheia e espelha experiências que o leitor não sabia serem comuns. Talvez seja este o maior atributo de Atwood: ter reconhecido na exploração e na criação de mitos locais algo infinitamente mais profundo, menos circunspecto e, acima de tudo, mais universal.
Quando publicou A História de Uma Serva em 1985, Atwood mal suspeitava de que os sinais de abuso de poder que vislumbrava na sociedade dos Estados Unidos podiam conduzir à eleição de Donald Trump e ao questionamento (uma vez mais) do papel das mulheres cujos direitos presumimos ter adquirido com os movimentos feministas do século xx. Quase trinta e cinco anos depois da primeira edição, o romance alcançou, nos Estados Unidos como noutras partes do mundo, o estatuto de grito de batalha, um espelho ligeiramente exagerado das injustiças da sociedade actual. Começaram a aparecer mulheres vestidas com o icónico uniforme da serva da sociedade misógina de Gilead nas manifestações anti-Trump, e A História de Uma Serva transformou-se na série de televisão de grande qualidade que todos vimos, e num êxito de vendas traduzido em mais de quarenta línguas. A sequela, Os Testamentos, cujo enredo foi mantido em segredo até ao dia da publicação, esmiúça ainda mais a história: como é que alguém se vira contra os seus e se torna um agressor? Atwood teima em explorar o mal.
Homero não ficou de fora. Margaret Atwood pegou na narrativa homérica do regresso de Ulisses e reimaginou-a do ponto de vista de Penélope e das suas escravas. Chamou à sua versão A Odisseia de Penélope. No Canto XXII da Odisseia, depois de matar com uma seta Antínoo, um dos dois principais pretendentes, e revelar a sua identidade aos restantes homens estupefactos, Ulisses começa a matá-los um a um, com a ajuda do seu filho Telémaco, do porqueiro Eumeu e ao boieiro Filécio. Esgotando-se-lhe as setas, Ulisses enverga a armadura e aniquila os pretendentes com a espada e a lança, enquanto as doze escravas que tinham dormido com eles são penduradas pelo pescoço, com amarras de uma nau. Após o massacre, Ulisses purifica «a sala de banquetes, toda a sala e o pátio» com «tochas e enxofre». Atwood considerou a história insatisfatória. Há, diz ela, «duas perguntas que se impõem após qualquer leitura atenta d’A Odisseia: Porque é que enforcaram as escravas? Que andava Penélope realmente a fazer? Tal como é contada n’A Odisseia, a história tem pontas soltas, demasiadas inconsistências.» Mais uma vez, Atwood quer explorar em maior profundidade, e dar voz às mulheres silenciadas. Há demasiadas Filomelas nas nossas histórias.
Embora Atwood seja conhecida pela sua ficção e os seus ensaios, para mim são os seus poemas que melhor expressam a sua filosofia ética e social. A exploração dos temas da injustiça, da repressão, da censura e do poder, as indagações sobre identidade sexual, familiar e cívica, explícitas na sua prosa, assumem facetas intensamente ambíguas e profundas na sua poesia. Para Atwood, a inteligência adquirida pelas palavras pode conduzir a um mundo melhor. E o seu oposto, a «estupidez», escreveu ela, «é o mesmo que o mal, se avaliarmos pelos frutos que dá». Os seus primeiros livros de poesia, como o já mencionado Políticas de Poder, ou The Journals of Susanna Moodie e The Animals of this Country, tal como os posteriores, como Morning in the Burned House, por exemplo, mostram, com inusitado humor e comovente empatia, a inteligência das suas ideias e o seu interesse pelo nosso destino humano comum.
A fama e uma irmandade de leitores em todo o mundo fizeram de Atwood um alvo de toda a espécie de ataques, injustos e maldosos. Acusada de ser tudo desde «má feminista» a «mulher branca merdosa», Atwood conserva a sua dignidade usando humor e razão. Talvez um conto que escreveu no início da década de 1990 resuma a identidade que a Atwood mais velha foi obrigada a assumir. É uma versão da história da Galinha Vermelha que encontra um grão de trigo, deita a semente na terra, colhe o trigo, mói em farinha, coze com ela um pão. Ao longo do processo, sempre que a Galinha Vermelha pede ajuda, os outros animais dizem «Eu não, eu não!». Por fim, quando o pão está pronto, ela torna a perguntar: «Quem me ajuda a comer este pão?» E todos os animais respondem: «Eu, eu!»
Atwood termina a sua versão assim:
«E agora? Eu sei o que diz a história, o que eu devia ter dito: Pois agora, como-o eu; vão dar uma volta. Não acreditem numa palavra. Como já frisei, sou uma galinha, não sou um galo.
‘Tomem’, disse eu. ‘Peço desculpa por ter tido à partida a ideia. Peço desculpa pela sorte. Peço desculpa pela abnegação. Peço desculpa por ser boa cozinheira. […] Peço desculpa por sorrir, no meu avental de galinha presunçosa, com o meu bico de galinha presunçosa. Peço desculpa por ser uma galinha. Comam mais. Comam a minha parte.»
Alberto Manguel
Lisboa, Páscoa de 2022

